A coletânea Goiânia: Fundações da Modernidade Literária no Cerrado, organizada por Ademir Luiz da Silva e Eliézer Cardoso de Oliveira, e publicada em 2021
O histórico da modernidade em Goiânia, segundo os organizadores, inicia-se com a idealização da cidade como difusora da modernidade e cultura
A primeira parte da coletânea concentra-se nos eventos e instituições literárias. Heloisa Selma Fernandes Capel, em "UBE: Sob o Signo da Resistência Cultural", narra a história da União Brasileira de Escritores (UBE) – seção Goiás, inicialmente ABDE, fundada em 1945
A segunda parte aprofunda-se nas representações de Goiânia na ficção. Eliézer Cardoso de Oliveira, em "A realidade da ficção: representações da cidade de Goiânia nos contos literários e poemas", utiliza a literatura ficcional para mapear as reações dos goianienses diante da modernização entre 1960 e 1970
Na terceira parte, os depoimentos de Heleno Godoy, Maria Helena Chein e Moema de Castro e Silva Olival iluminam a trajetória do GEN (Grupo de Escritores Novos). Heleno Godoy, em "O GEN e a modernidade em Goiás: um depoimento", afirma que o GEN (1963-1967) não foi um movimento literário com novas estéticas, mas sim um "movimento cultural" que visava estudar e produzir literatura
A quarta parte, "Qual modernidade?", questiona a natureza dessa modernidade. Maria de Fátima Oliveira e Lucas Pedro do Nascimento, em "A modernidade chega ao sertão: A Máquina Extraviada de José J. Veiga", analisam o conto de 1968, que, através da ficção, representa as contradições da modernidade no interior do país
Por fim, a quinta parte, "Aquém e Além da Modernidade", explora aspectos marginais. Tarsilla Couto de Brito, em "Gilka Bessa, uma poeta mulher na periferia do feminismo", analisa o livro Feminino Plural (1978), buscando os "índices de modernização da poesia de autoria feminina nos anos 70"






.jpg)













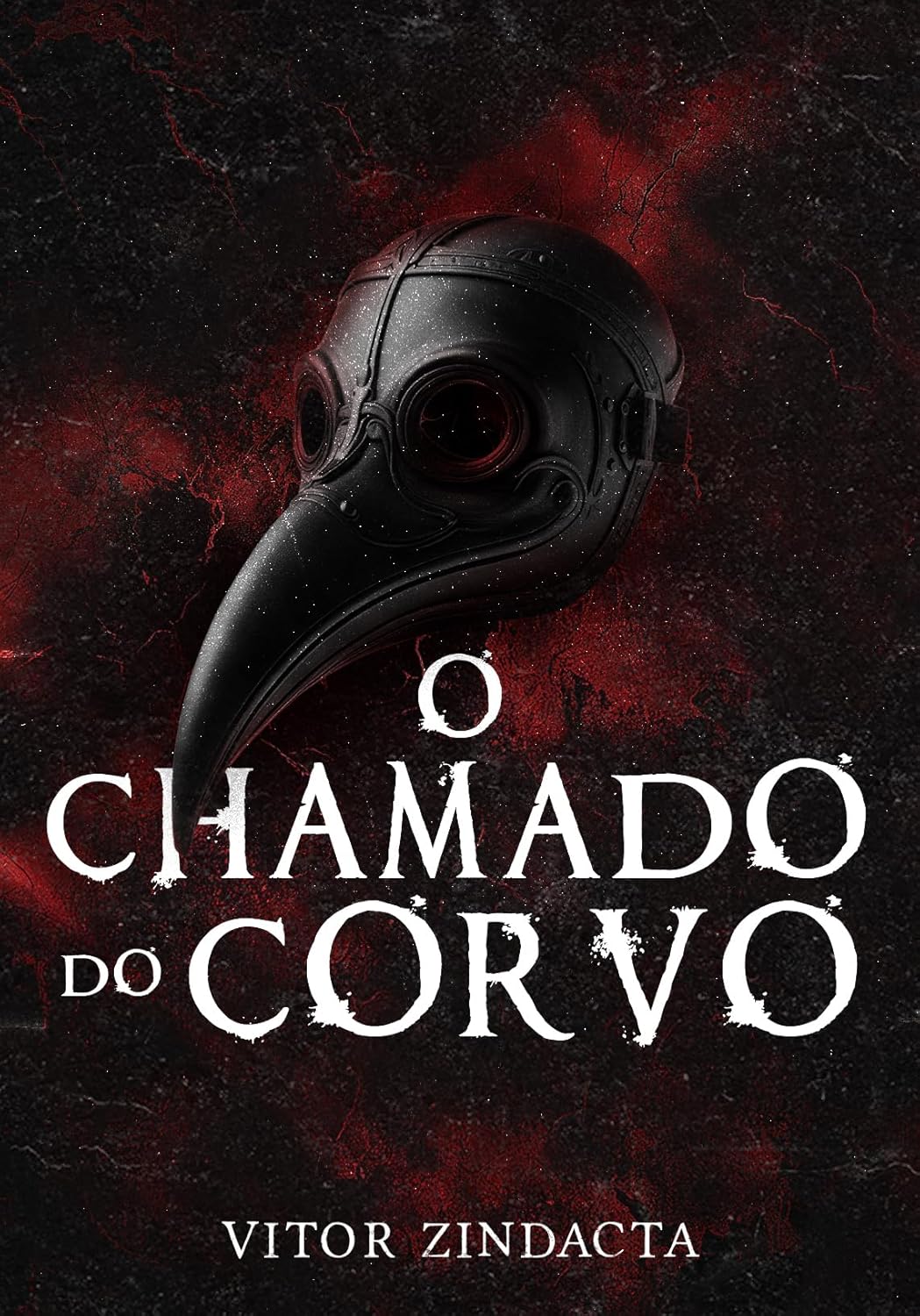



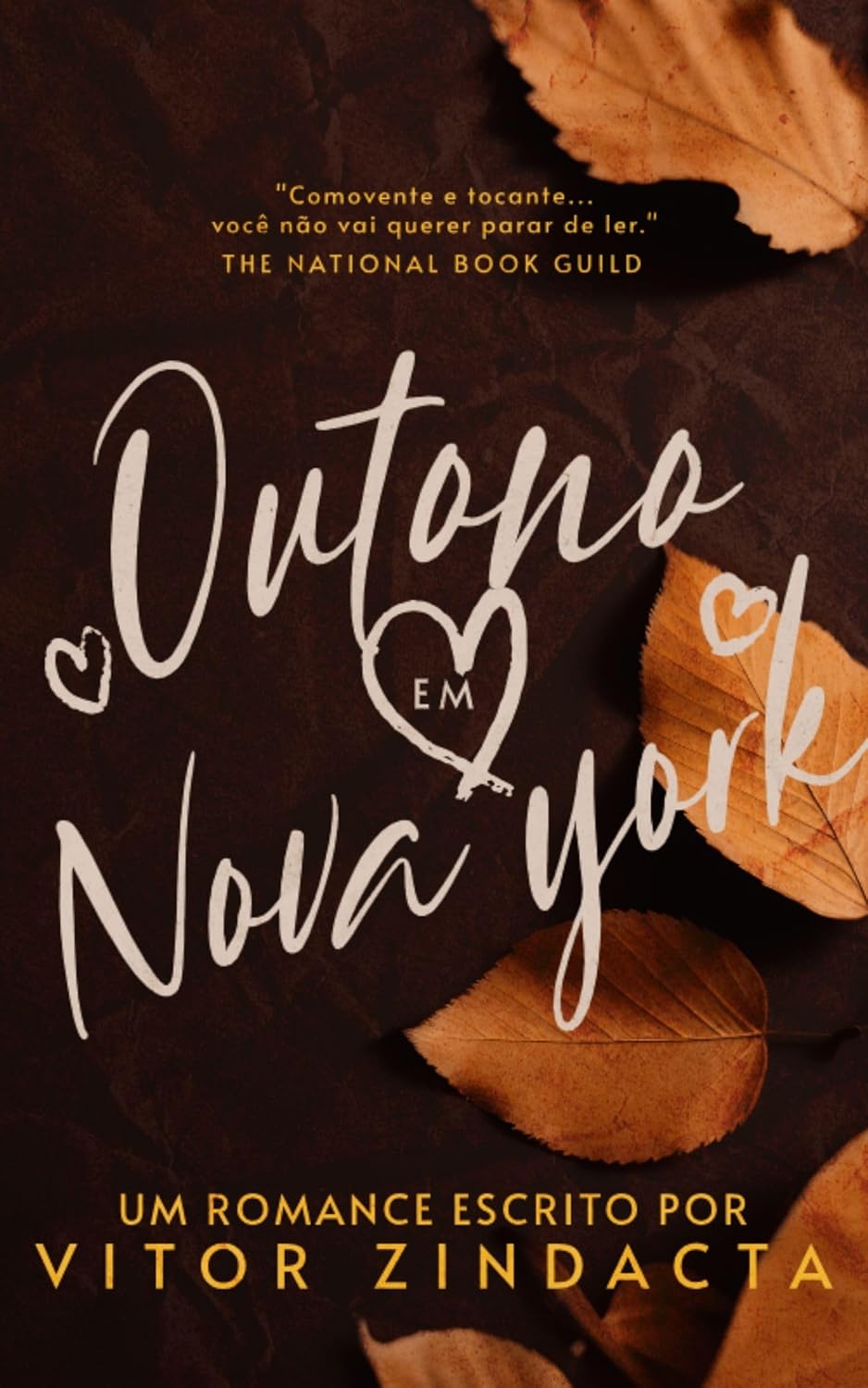


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
Nenhum comentário
Postar um comentário