A coletânea Goiânia em Mosaico: visões sobre a capital do cerrado, organizada por Ademir Luiz da Silva e Eliézer Cardoso de Oliveira, e publicada pela Editora da PUC Goiás em 2015
Na primeira parte, Nasr Nagib Fayad Chaul, em "Goiânia: A Capital do Sertão", estabelece o enquadramento fundacional da cidade como um "pedaço de modernidade, cravado no sertão goiano"
Na segunda parte, a obra mergulha nas "rugosidades" culturais e religiosas que resistem e coexistem com o projeto modernista. Reijane Pinheiro da Silva, em "O 'Goiânia Capital Country': A Identidade em Disputa", analisa o projeto de 1995 que tentou transformar a cidade na "Capital Country do Brasil"
Em suma, Goiânia em Mosaico é uma contribuição fundamental para os estudos urbanos e regionais, ao oferecer uma leitura técnica e complexa da cidade que transcende a historiografia fundacional. A sinergia entre as análises, que transitam da macroestrutura política e econômica às microexpressões culturais e religiosas, revela uma cidade marcada pela contradição inerente à modernidade periférica: uma metrópole que é simultaneamente capital do sertão, palco de disputas identitárias, refúgio de rugosidades ancestrais e berço de um rock contestatório






.jpg)













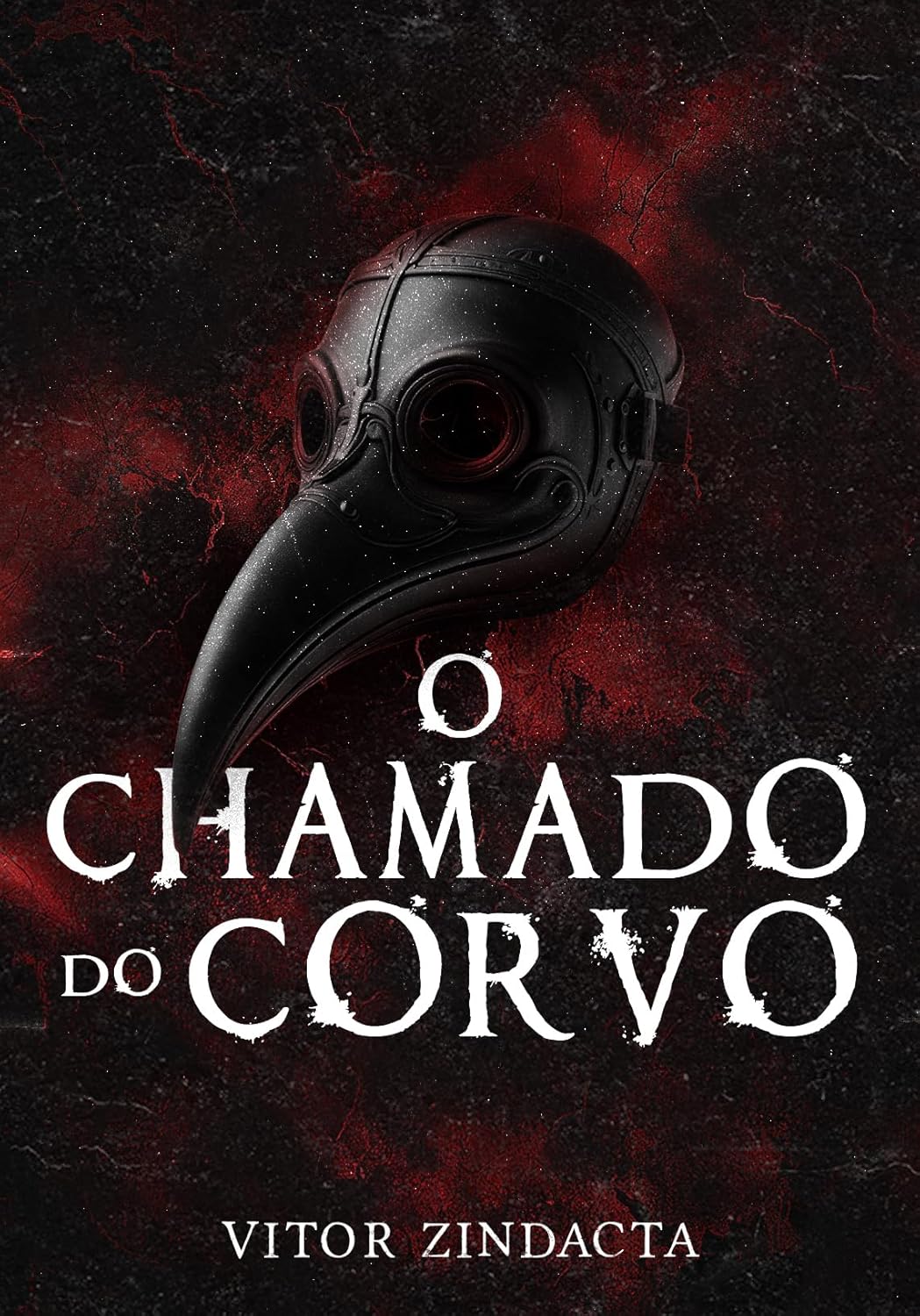



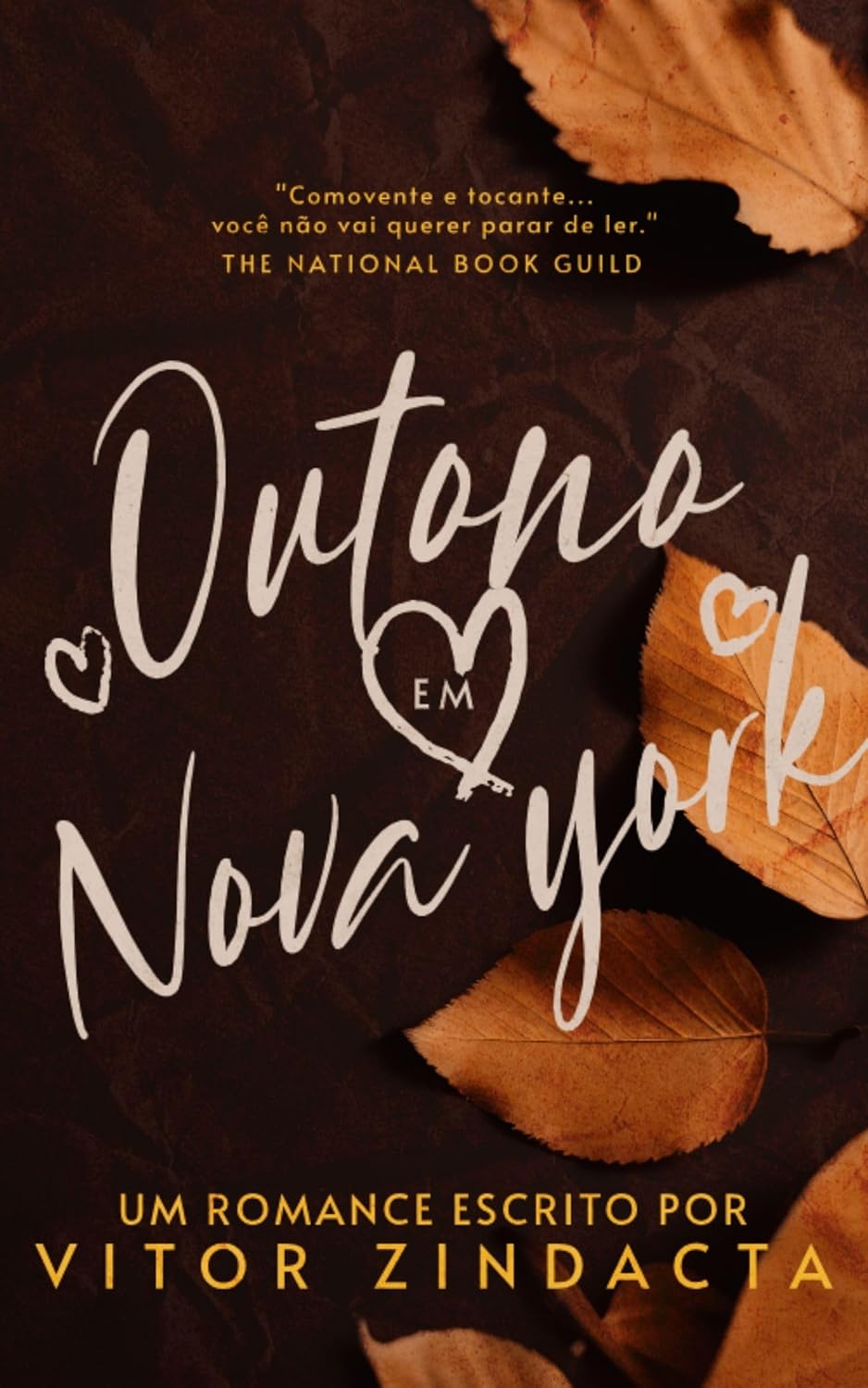


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
Nenhum comentário
Postar um comentário