 |
| Imagem: Sistema Etapa |
A Literatura, como campo de produção simbólica, constitui um vetor fundamental na formação do imaginário social e na validação de determinadas epistemes, transcendendo a mera expressão estética. O conceito de Cânone Literário, doravante tratado como o corpus textual oficialmente legitimado e ensinado, tem sido classicamente defendido por Harold Bloom (1994) como uma seleção vitalícia das melhores obras. Contudo, a crítica sociológica, baseada em Pierre Bourdieu e sua análise do Campo Literário, revela que o Cânone opera intrinsecamente como um dispositivo de poder hegemônico, estabelecendo barreiras de acesso e validação para vozes e estéticas não alinhadas ao status quo cultural, muitas vezes de matriz ocidental, masculina e branca. Este artigo propõe a desconstrução do Cânone Hegemônico (CH), demonstrando que a exclusão de determinadas obras não se baseia unicamente em seu mérito estético, mas sim em sua potencialidade subversiva e ruptural, que desafia as estruturas de poder. A emergência de um Anticânone, composto por textos que promovem a ruptura epistemológica e a polifonia identitária, configura-se, portanto, como um imperativo sociocultural da Pós-Modernidade, exigindo uma investigação profunda dos mecanismos de exclusão e da relevância política do texto marginalizado.
O Cânone, nesta perspectiva, deve ser entendido como um capital simbólico acumulado. Bourdieu (1983) argumenta que o valor de uma obra está indissociavelmente ligado ao seu campo de produção e circulação. No Campo Literário brasileiro, a legitimação esteve historicamente concentrada em instituições como a Academia Brasileira de Letras (ABL) e em circuitos editoriais e acadêmicos dominantes, que atuam como filtros. Esta exclusão opera sob a máscara da qualidade estética, um mecanismo sutil onde obras que questionam a linguagem padrão, que não se enquadram nos gêneros reconhecidos (como a Literatura Periférica ou a Ciência Ficção com viés político) ou que veiculam ideias políticas não conformes são sistematicamente classificadas como de "menor valor" ou "engajadas demais", conforme a análise de Antonio Candido sobre o processo de formação da literatura nacional. Este filtro ideológico não visa a pureza estética, mas a reprodução simbólica de uma classe ou visão dominante. Adicionalmente, a crítica acadêmica reforça esta estrutura, pois ao privilegiar autores já consagrados, endossa a estrutura canônica e retira visibilidade a pesquisas sobre o não-canônico. Edward Said (1978), em sua análise do Orientalismo, oferece um framework para entender como a produção de conhecimento, aqui representado pelo cânone, atua como instrumento de dominação e silenciamento de vozes periféricas ou dissidentes.
Um estudo de caso paradigmático da emergência do Anticânone no Brasil é a Poesia Marginal e Experimental, notadamente a produção ligada à Geração Mimeógrafo nos anos 1970, e a subsequente Literatura Periférica. Esta vertente representa uma ruptura estética e política. A poesia de autores como Ana Cristina Cesar ou a obra inicial de Paulo Leminski foi, por princípio, avessa à institucionalização, e sua forma de circulação (mimeógrafo, panfletos, livros artesanais) constituiu uma crítica direta ao monopólio das grandes editoras. Esta estética subversiva prioriza a oralidade, a fragmentação e o cotidiano antipoético, opondo-se ao formalismo e ao lirismo romântico que permeia o Cânone Hegemônico. De forma ainda mais contundente, a Literatura Periférica, surgida em comunidades de baixa renda (ex: Sarrafo, Cooperifa), evidencia o risco político do Anticânone. Obras como as de Paulo Lins (Cidade de Deus) ou de Ferréz trazem para o centro do debate a questão da violência estrutural, do racismo e da exclusão social com uma linguagem bruta e dialetal, muitas vezes chocante para o leitor tradicional. O risco da leitura destas obras reside na desnaturalização da realidade social e na exigência de uma resposta ética do leitor, um engajamento com o contexto concreto que o CH muitas vezes neutraliza ao focar em dilemas psicológicos e universais desvinculados do substrato social. O não-reconhecimento pleno destas obras no currículo escolar, portanto, é um ato de manutenção do silêncio social e da invisibilidade destas realidades.
Ademais, o Cânone Escolar, como principal instrumento de transmissão do CH, é um palco de tensões quando confrontado com a Literatura Feminista e a Literatura Indígena. A inclusão de obras que desafiam a perspectiva patriarcal e colonialista gera resistência institucional, pois expõe falhas estruturais. Obras de literatura feminista, como as de Clarice Lispector (que foi inicialmente marginalizada pela crítica masculina de sua época) ou a produção contemporânea que dialoga abertamente com a teoria de gênero, expõem o machismo estrutural e o silenciamento feminino. A dificuldade em adotar textos de Simone de Beauvoir (O Segundo Sexo) ou Virginia Woolf (Um Teto Todo Seu) como leituras obrigatórias reside na necessidade de revisão crítica dos modelos sociais e familiares vigentes; o risco é a emancipação do leitor jovem através da consciência de gênero. Da mesma forma, a literatura de autoria indígena (ex: Ailton Krenak, Daniel Munduruku) não é apenas um novo objeto de estudo, mas uma contranarrativa à história oficial do Brasil. Estes textos subvertem a noção europeia de tempo, de natureza e de propriedade, sendo cruciais para a descolonização do saber, conforme defende a crítica pós-colonial. Sua inclusão é uma necessidade epistemológica, pois desfazem a ilusão de uma cultura homogênea e canônica, confrontando o leitor com a diversidade radical de cosmologias. O embasamento desta seção pode ser enriquecido por documentários sobre o movimento literário periférico (Slam e Batalhas de Poesia) e por estudos de caso em escolas que adotaram livros com temas controversos, analisando as reações institucionais e comunitárias.
Em síntese, o Cânone Hegemônico é, em essência, um instrumento de conservação. A literatura subversiva – o Anticânone – é o motor de renovação e democratização do campo literário. O risco destas obras é precisamente sua força: elas convidam o leitor a questionar as bases de sua própria realidade e estrutura de poder. Para uma abordagem curricular mais plural e crítica nas Letras, é imperativo adotar a perspectiva interseccional, reconhecendo o mérito estético e a relevância política daquelas vozes historicamente marginalizadas, superando o reducionismo estético. Apenas através deste engajamento crítico com o que foi excluído é que a Literatura cumprirá seu papel de crítica e transformação social, garantindo que o acervo simbólico da nação reflita sua complexidade e contradições.
Referências
BLOOM, Harold. O Cânone Ocidental: Os Livros e a Escola do Tempo. Rio de Janeiro: Objetiva, 1994.
BOURDIEU, Pierre. O Campo Literário: Ensaios sobre o Funcionamento e a Estrutura da Vida Literária. São Paulo: Edusp, 1998.CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2008.
CRENSHAW, Kimberlé Williams. Mapping the Margins: Interesectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review, v. 43, n. 6, p. 1241-1299, 1991.
SAID, Edward W. Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas: Forma Literária e Processo Social em Machado de Assis. 5. ed. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2000.
WOOLF, Virginia. Um Teto Todo Seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.



















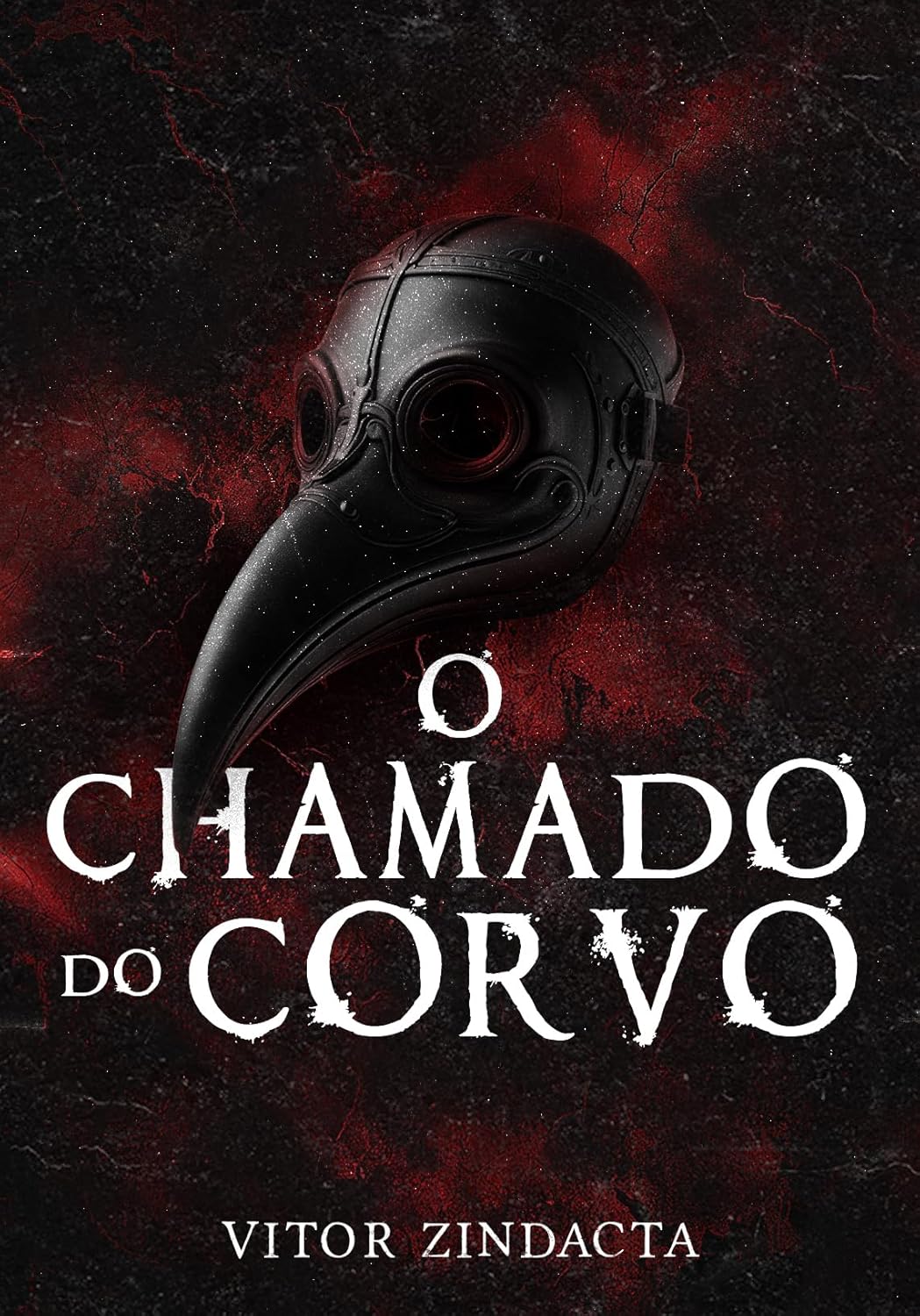



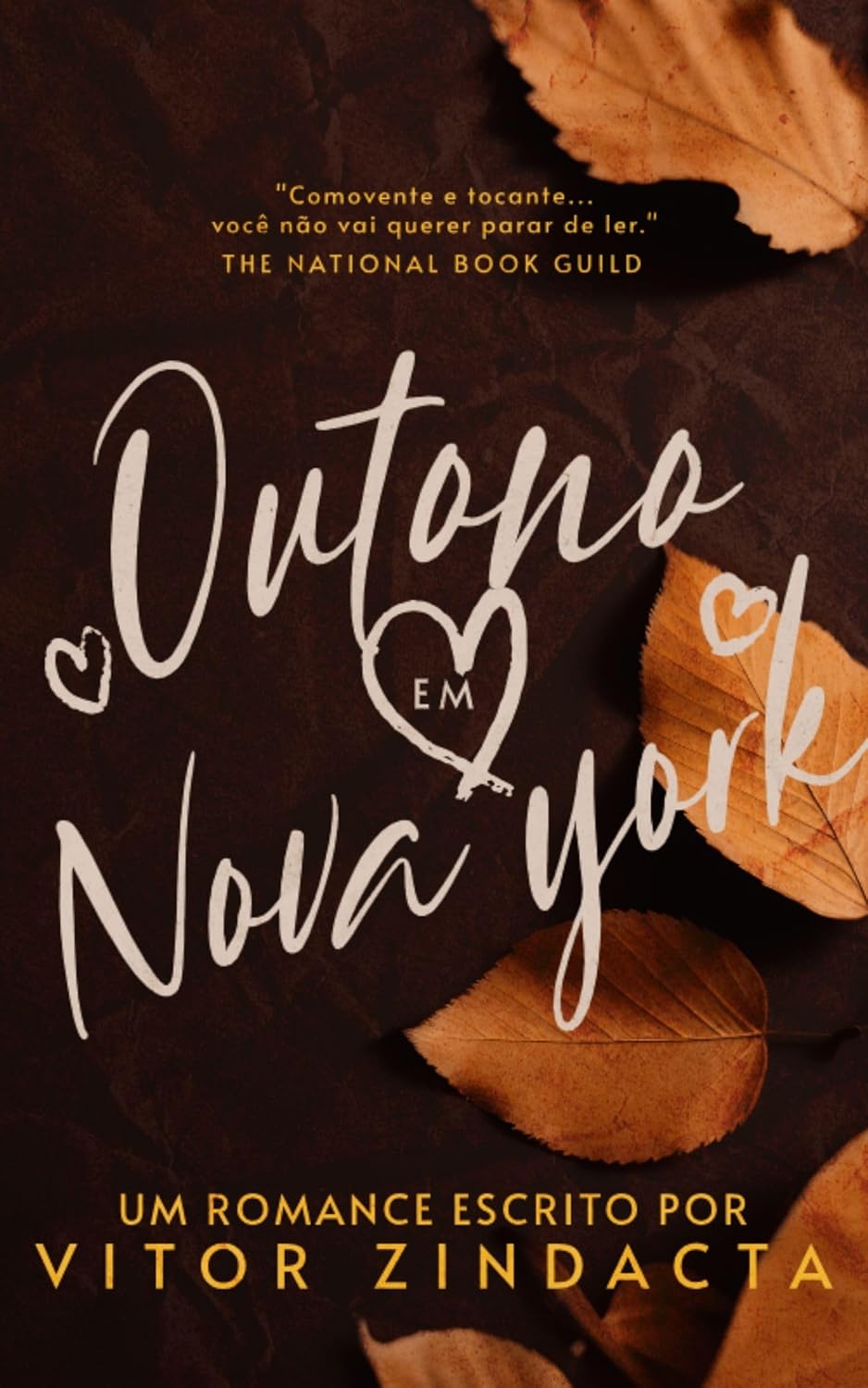


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
Nenhum comentário
Postar um comentário