A obra de Katyuscia Brito, escrita em menos de um mês em 2017, traz uma narrativa intensa e envolvente sobre as realidades do sertão pernambucano. Em seu romance de estreia, a autora aborda as complexidades das relações no mundo do crime, através da história de Rauai e Neto, primos envolvidos em atividades ilegais e perigosas. Com uma escrita hábil e envolvente, Katyuscia explora as nuances de seus personagens, mostrando que não há apenas o bem e o mal, mas sim indivíduos complexos em busca de seu próprio caminho. Em uma jornada de vida e morte, paixão e traição, guerra e paz, a autora nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos e as consequências que enfrentamos. Entrevista exclusiva com Katyuscia Brito, confira!
1. Qual foi a inspiração por trás de Rauai?
Resposta: Escrevi Rauai, primeiramente, porque sou nordestina, pernambucana, e carrego em mim, de forma latente, o Nordeste. É algo que pulsa no meu coração e corre em minhas veias. Saí do nordeste quando eu tinha 11 anos de idade, mas o nordeste nunca saiu de mim. No entanto, Rauai poderia ser ambientado em qualquer região do Brasil, afinal, o livro conta a história de um jovem pobre e sem perspectiva que entra para o mundo do crime em busca de uma vida melhor – fato este que acontece com muitos jovens em todo o país. Vejo que a mídia nacional destaca muito os problemas com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e a questão da segurança pública na cidade do Rio, mas esse é um problema que não é apenas regional, pois acontece em todo o território nacional, e não apenas na região sudeste.
2. Como é o seu processo criativo ao escrever um livro?
Resposta: Tenho rotina! Sou uma pessoa diurna e tenho um melhor rendimento pela manhã. Enfim, independente se estou escrevendo um livro ou um artigo, gosto de escrever sempre no mesmo horário e no mesmo local. Penso na história, nos personagens e nas situações em vários momentos do dia, mas, geralmente apenas no horário que separo para escrever é que passo tudo para o “papel”.
3. Quais são os temas que mais gostou de abordar em Rauai?
Resposta: Sinceramente, me apaixonei por cada um deles. Em cada capítulo mergulhei de forma intensa em cada situação. Para mim é difícil escolher um tema que mais gostei, pois “vivenciei”, mentalmente, intensamente cada um.
4. Como você lida com o bloqueio criativo durante o processo de escrita?
Resposta: Criando um cenário mental sobre a história. Costumo vivenciar, mentalmente, intensamente, cada situação.
5. Quais são os autores que mais te influenciam na sua escrita do seu livro Rauai?
Resposta: Com certeza o Paulo Coelho. Sou fã dele! Embora o tema do meu livro e os temas que ele costuma abordar sejam totalmente diferentes, sempre gostei da forma fluída como ele escreve. E sempre busquei escrever dessa forma.
6. Qual foi o maior desafio que enfrentou ao escrever Rauai?
Resposta: O meu maior desafio foi lidar com a autocrítica. Desde quando comecei a escrever Rauai, disse para mim mesma que iria escrever sem “filtros”, sem receio. Acredito que uma boa escrita é aquela com a qual a gente consegue escrever despidos de qualquer limitador, de qualquer censura. E assim fiz!
7. Como você escolheu o título do seu livro?
Resposta: Na verdade, o título surgiu antes mesmo de eu começar a escrever o livro. Eu estava pensando sobre o personagem principal do livro “que ele era forte como uma força da natureza” e, pronto, Rauai “Hawaii” surgiu na minha cabeça.
8. Como foi o processo de pesquisa para o desenvolvimento do livro?
Resposta: O livro ´”Rauai - o Patrão do Polígono da Maconha” é uma obra de ficção. Criei todos os personagens e imaginei uma história para cada um deles naquele cenário “O sertão Pernambucano”, especificamente o Polígono da Maconha. Eu já conhecia um pouco da história, do contexto, do Polígono, fora isso, assisti alguns documentários e reportagens sobre o local e fiz pesquisas no Google.
09. O que você espera que os leitores sintam ao ler sua obra?
Resposta: O livro convida o leitor a fugir do senso comum e a enxergar as coisas, um pouco, sob outra perspectiva. O que é “certo”? O que é “errado”? Será que realmente existe um lado “certo” e um lado “errado”? Ou tudo depende do ponto de vista de cada um? Sei que nada justifica a escolha de um jovem em entrar para o mundo do crime. Assim também como sei que nada justifica a escolha de um político em se tornar corrupto "entrar para o mundo do crime". Embora em "lados opostos”, ambos são bandidos e estão interligados, afinal, o tráfico é só mais um efeito colateral, ou subproduto, da corrupção. A principal diferença é que um causa um tipo de terror específico, o da violência, e mata com a pistola. Enquanto o outro assombra através da vulnerabilidade social e mata com a caneta.
10. Qual conselho você daria para escritores que estão começando suas carreiras?
Resposta: A escrita é uma paixão, não é uma escolha. É algo que te dá prazer e que te motiva, independente de qualquer coisa. Sendo assim, mergulhe naquilo que te move e escreva como se ninguém fosse ler. Essa é uma ótima estratégia para driblar a autocensura. Fora isso, acredite em você!








.png)





.png)













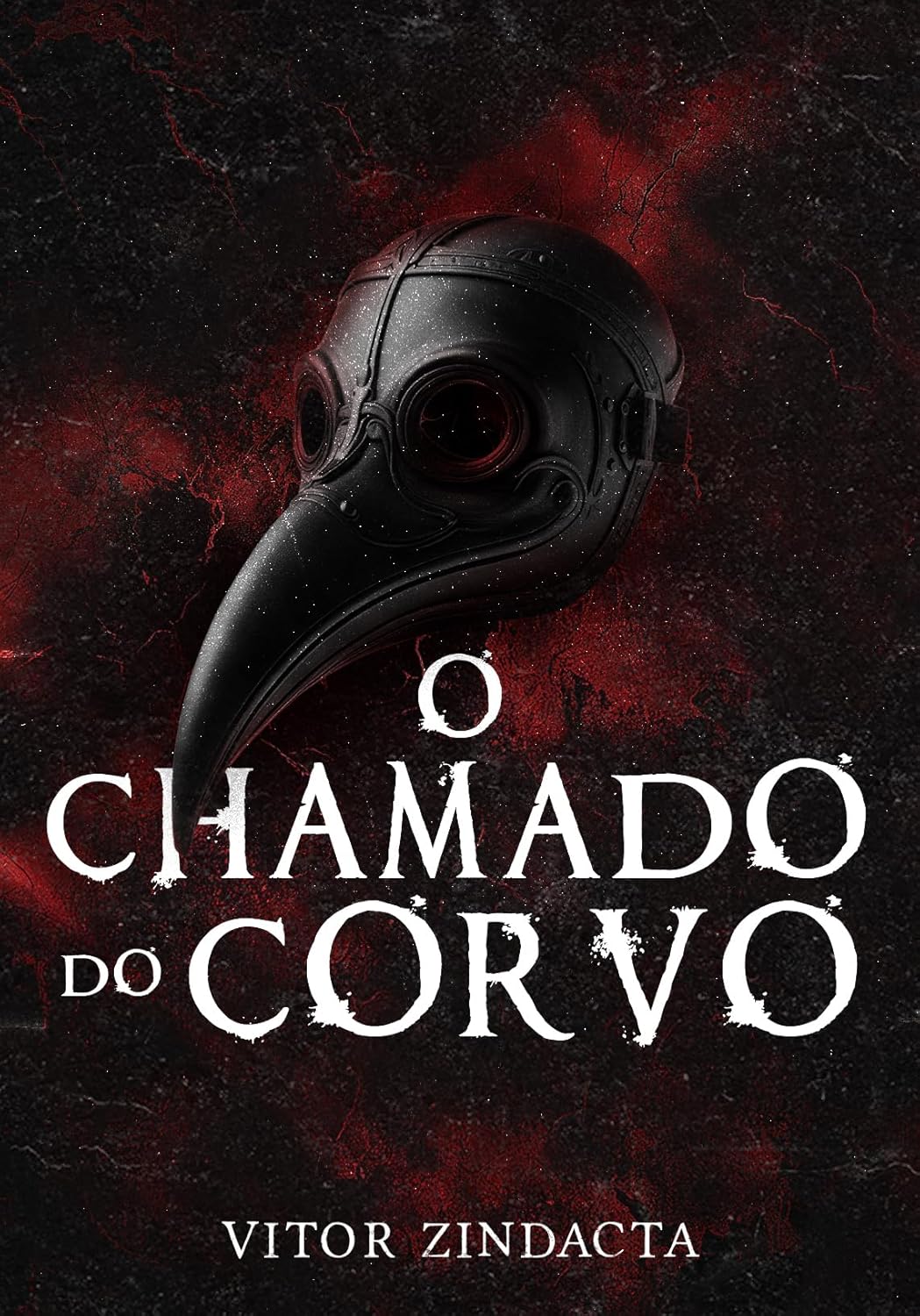



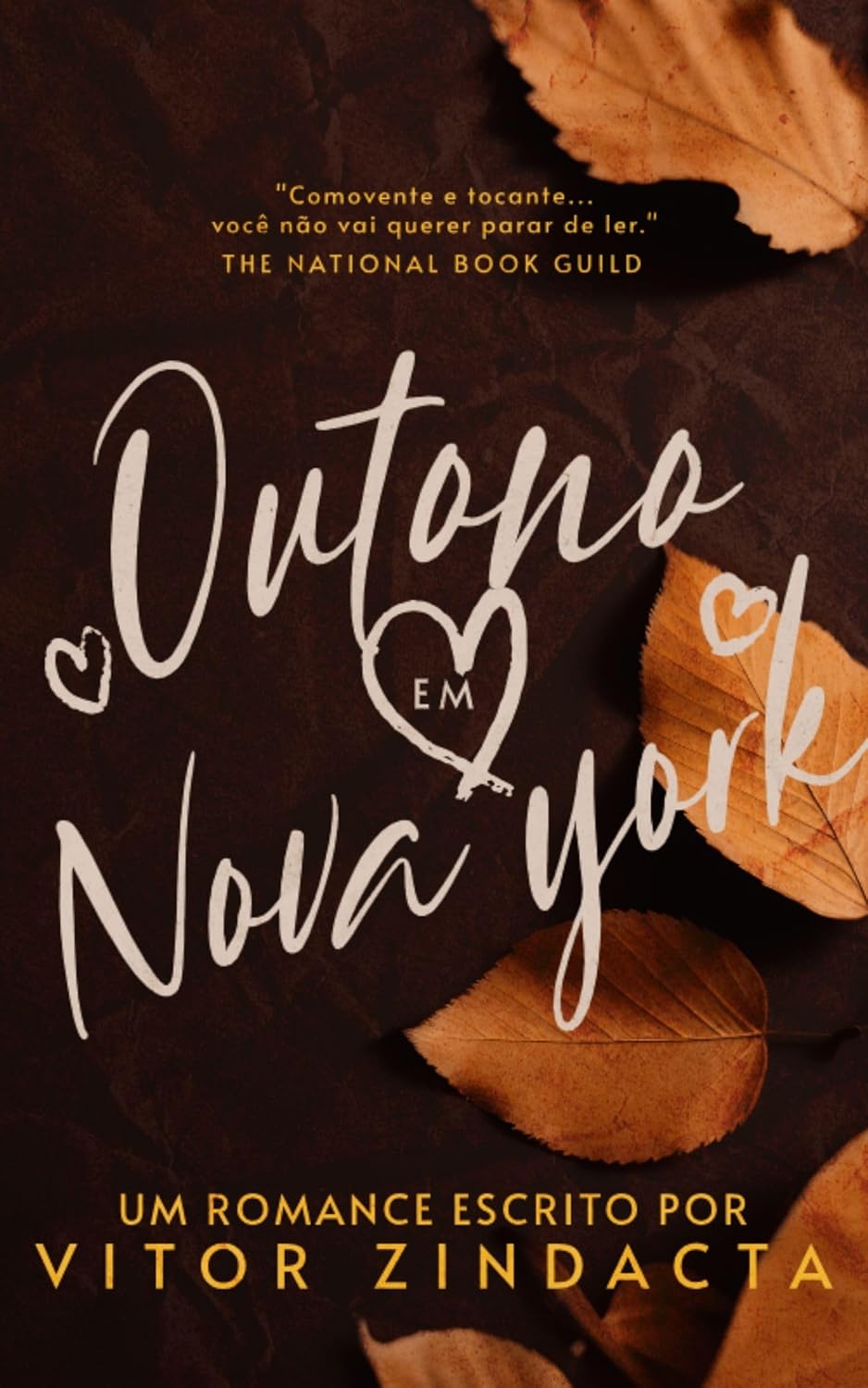


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.