APRESENTAÇÃO
A rica mitologia grega, com seus deuses e heróis, é referência até os dias atuais, em várias áreas de estudo. Em A cabeça de Medusa e outras lendas gregas, Orígenes Lessa, baseado na obra do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, reconta seis narrativas maravilhosas.Nesta obra estão presentes algumas das mais famosas lendas gregas, como: A cabeça de Medusa, A caixa de Pandora, O toque de ouro, O cântaro milagroso, A quimera e As três maçãs de ouro. A linguagem ágil de Orígenes nos transporta à história da civilização da Grécia Antiga e à origem de mitos importantes e significativos presentes até hoje na cultura ocidental.O livro conta com as belíssimas ilustrações de Cláudia Scatamacchia. É leve, divertido e atual como todo clássico. Um livro para ser lido com a imaginação.
RESENHA
"A Cabeça da Medusa: E Outras Lendas Gregas" é uma antologia de histórias da mitologia grega adaptadas por Orígenes Lessa. Este fascinante compêndio nos oferece a oportunidade de mergulhar no rico universo das lendas, resgatando personagens icônicos como Perseu, Dânae e a temível Medusa, enquanto ficamos imersos em narrativas que abordam temas como coragem, traição e a busca pelo heroísmo.
A narrativa central, que dá nome ao livro, gira em torno de Perseu, um herói cuja vida é marcada por uma profecia que prevê a morte de seu avô, o rei Acrísio. O temor das consequências dessa profecia leva Acrísio a tomar uma decisão drástica — colocar Dânae e Perseu em um barco e abandoná-los ao mar. Essa abertura já estabelece um ambiente de tensão que ronda a história, refletindo o contraste entre as intenções humanas e o desígnio dos deuses.
À medida que crescem os desafios que Perseu enfrenta, o leitor é apresentado a uma rica tapeçaria de elementos mitológicos. A fúria de Medusa, uma das górgonas, simboliza tanto um desafio a ser superado quanto a luta interna do herói contra suas próprias limitações e medos. Lessa retrata Perseu como um jovem audacioso, mas também vulnerável, cativando os leitores com sua determinação em atender ao pedido traiçoeiro do rei Polidecto. A astúcia do vilão e a complexidade dos laços familiares são bem exploradas, conferindo profundidade ao enredo.
A prosa de Lessa é envolvente; sua narrativa é rica em descrições vívidas e diálogos que capturam a essência das interações humanas e divinas. Lessa não apenas reconta as lendas, mas também as recontextualiza, permitindo que novos leitores e aqueles familiarizados com a mitologia grega apreciem a experiência. Os trechos relacionados ao encontro de Perseu com Mercúrio, por exemplo, são particularmente mais intesos, pois destacam a importância da ajuda e da sabedoria adquirida através da experiência, elementos que ecoam profundamente na condição humana. Além disso, a obra ressalta temas universais, como a luta entre o bem e o mal, lealdade, e a inevitabilidade do destino, o que a torna não apenas um repositório de histórias antigas, mas uma fonte de reflexão sobre a natureza humana.
As adaptações de Lessa são acessíveis para leitores de todas as idades, tornando este livro uma excelente introdução à mitologia grega para jovens e adultos igualmente. Sua habilidade em contar histórias se combina perfeitamente com a herança cultural que as mitologias oferecem, celebrando-as de forma dinâmica e envolvente.
Em suma, "A Cabeça da Medusa: E Outras Lendas Gregas" é uma obra que não só narra aventuras e desafios épicos, mas que também nos convida a refletir sobre nossas propias histórias, medos e desejos. A leitura é uma viagem através do tempo que confronta as questões eternas da vida, fazendo deste livro uma verdadeira joia da literatura infanto-juvenil e um excelente recurso para aqueles que desejam explorar as raízes da mitologia grega de uma maneira acessível e cativante.











.jpg)
.jpg)




















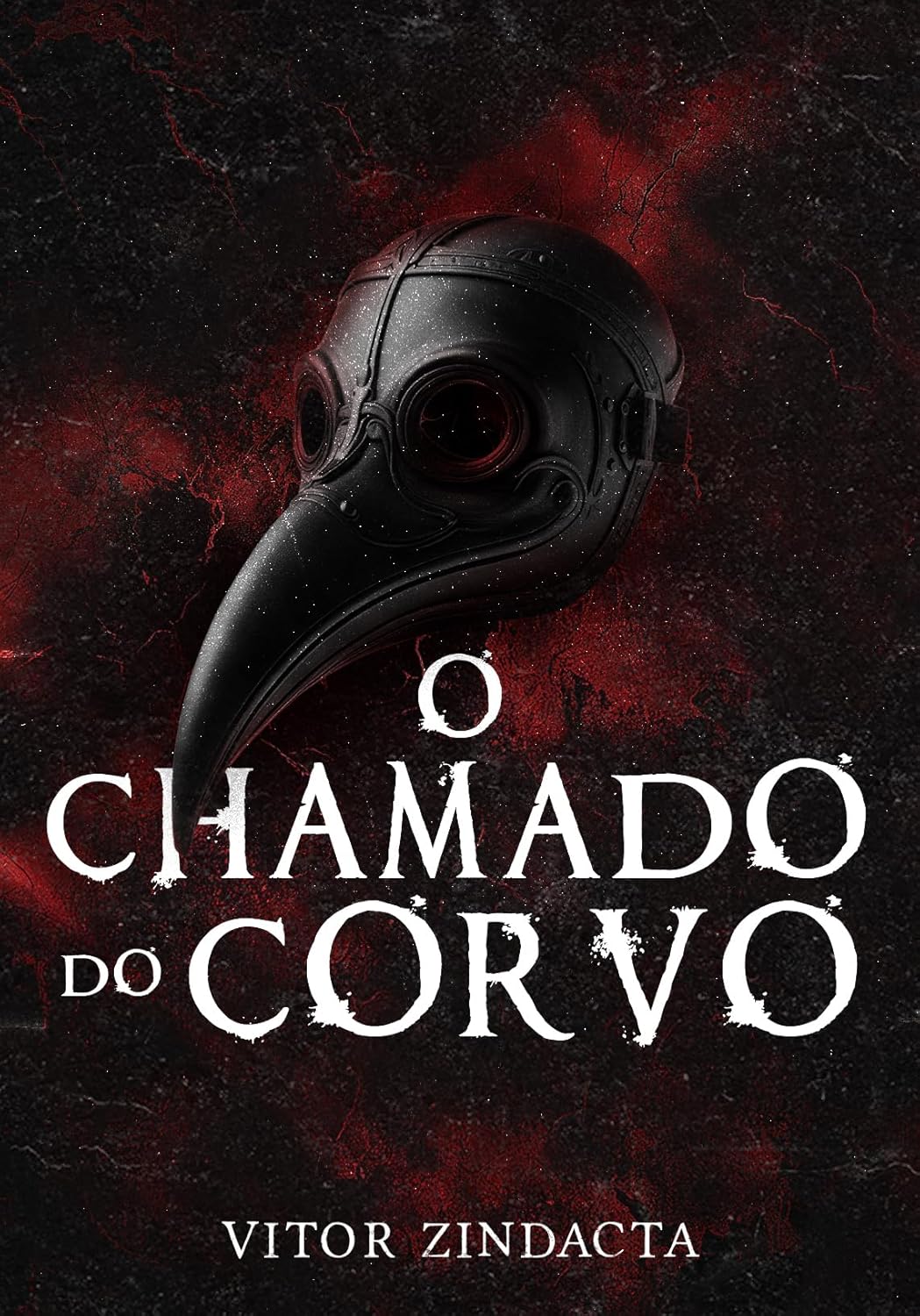



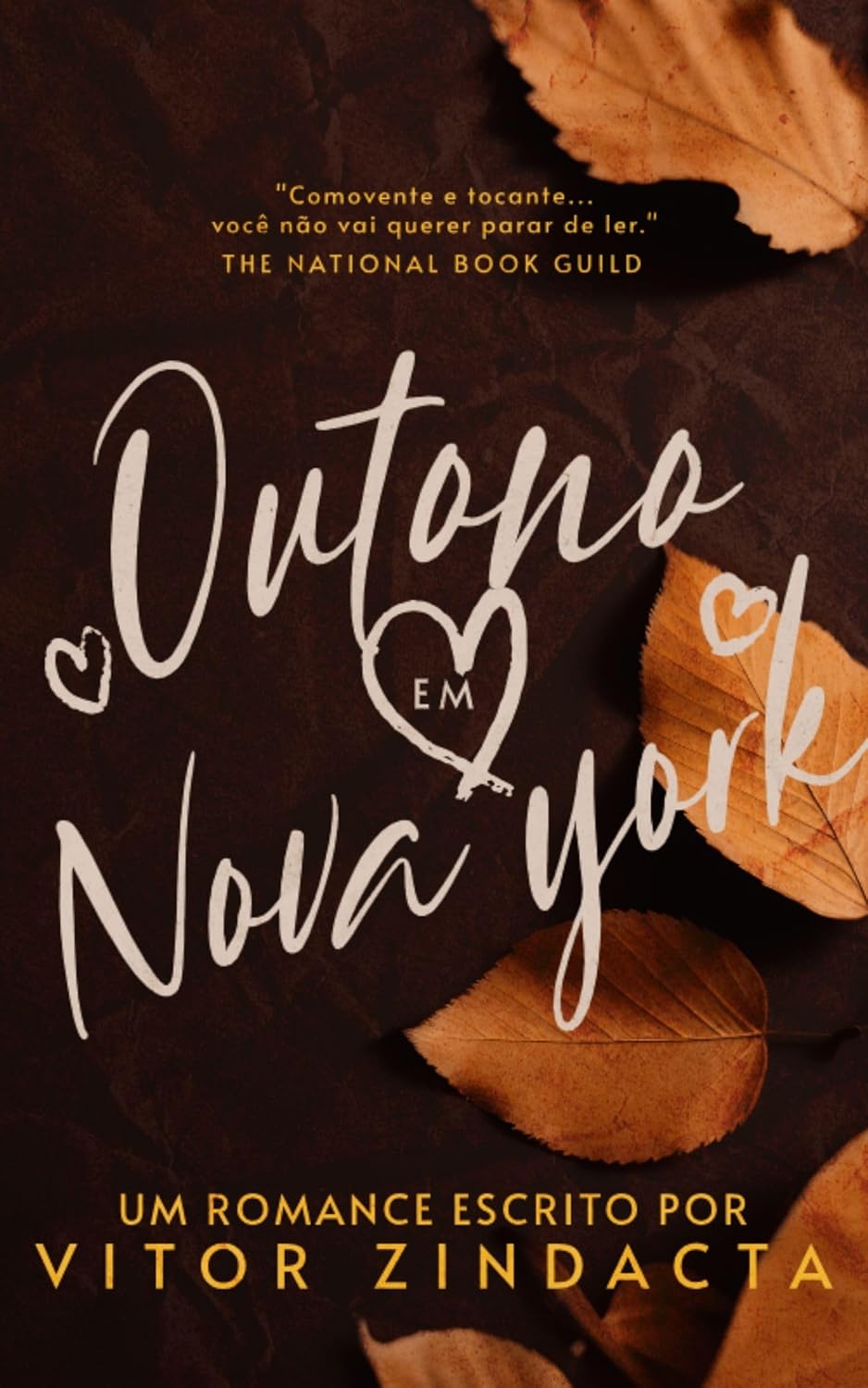


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.