APRESENTAÇÃO
Entre os anos de 1951 e 1952, Vladimir Nabokov ministrou aulas como professor convidado da Universidade de Harvard. Munido de um conhecimento amplo sobre Dom Quixote, foi para a sala de aula determinado a mudar a visão dos estudantes a respeito dessa obra. Com seu estilo único, cheio de ironia, bom humor e novas perspectivas sobre o clássico cervantino, Nabokov mostrou-se um profícuo professor e crítico literário. As aulas, embora preparadas com maestria, ficaram guardadas em pastas por longos anos até que o editor Fredson Bowers as reuniu e transformou neste Lições sobre Dom Quixote. As anotações completas e os comentários que Nabokov guardava para si são trazidos à luz para quem quiser se aprofundar nos estudos das aventuras de Dom Quixote e seu companheiro Sancho Pança. Mas, se o leitor desejar apenas uma leitura prazerosa acerca dos escritos de um exímio e sarcástico professor para seus alunos universitários, Lições sobre Dom Quixote têm outra chave interpretativa, se transformando em uma nada ortodoxa aula sobre a arte de lecionar. Seja qual for o motivo do interesse, trata-se de um livro que nos apresenta uma nova proposta de análise da obra de Cervantes, tirando-a da classificação de comédia atribuída usualmente pela crítica para provar aos estudantes ― e agora, aos leitores ― que o clássico espanhol é também uma obra brutal, um verdadeiro retrato da escuridão da Idade Média. Lições sobre Dom Quixote é uma preciosa oportunidade de conhecermos um autor clássico por meio de outro, pois pela mirada perspicaz e erudita de Nabokov, descortina-se para nós um novo Cervantes.


































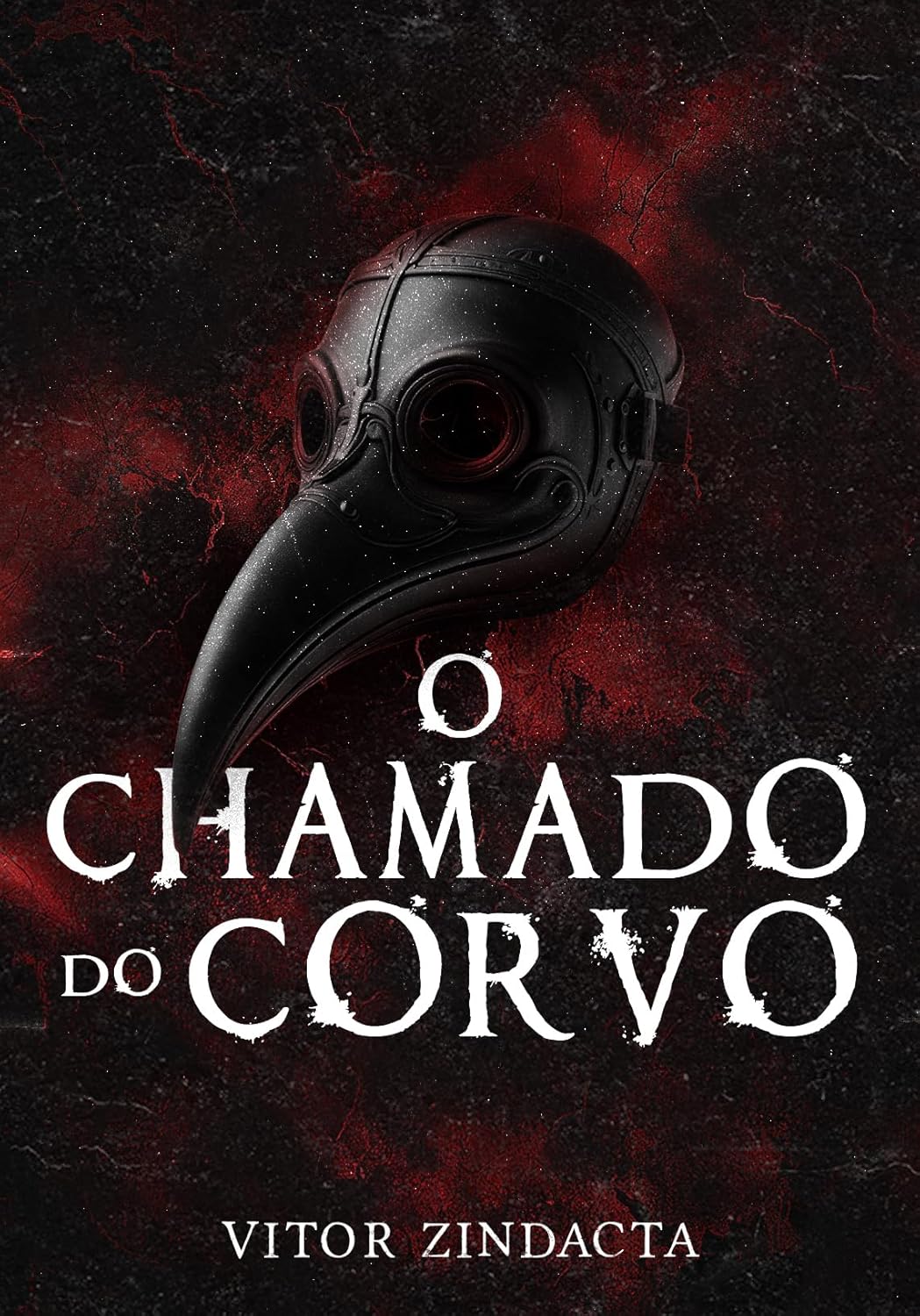



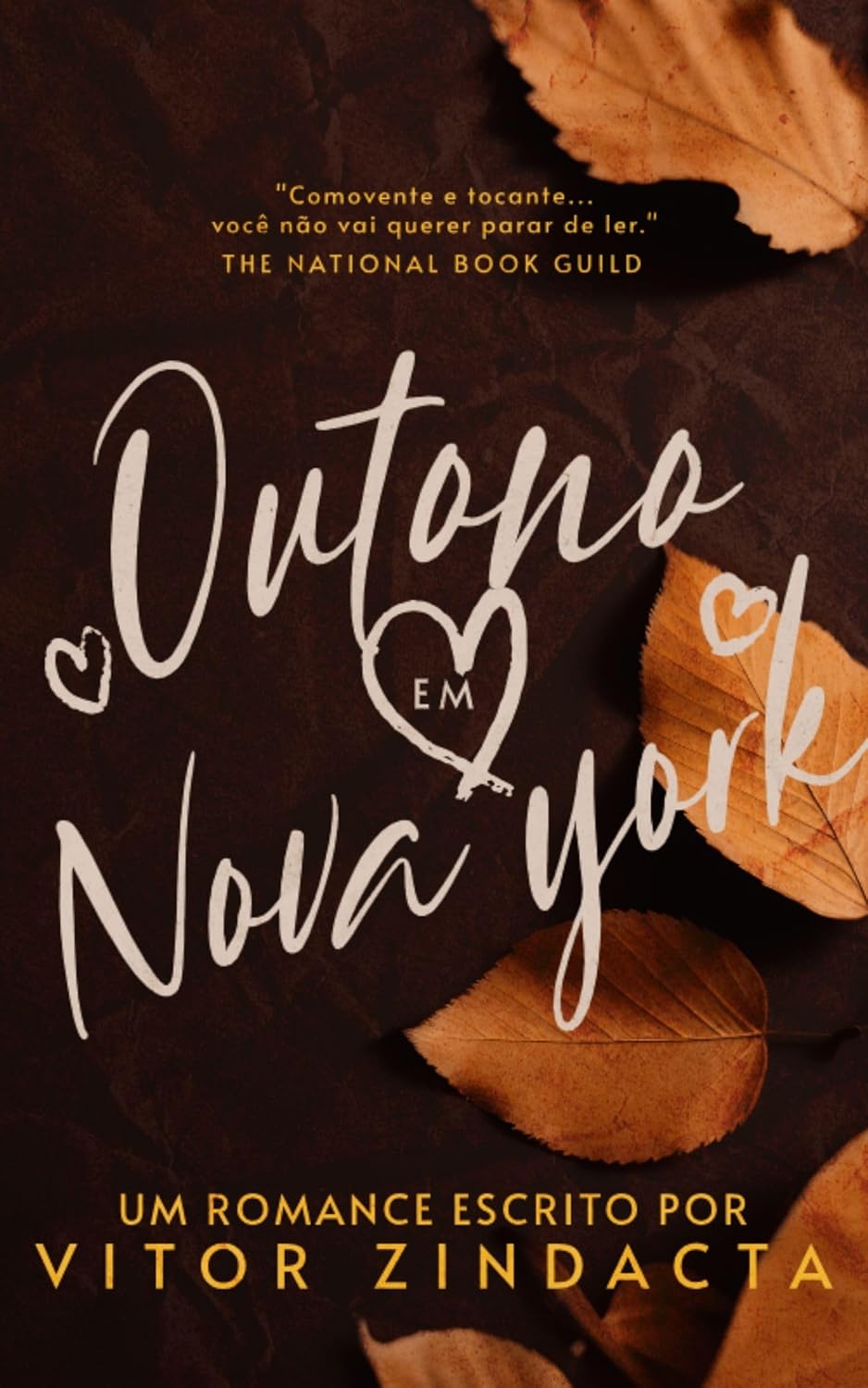


 POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.
POST Literal é um blog de livros, cinema, cultura e afins. Publicações novas todos os dias.